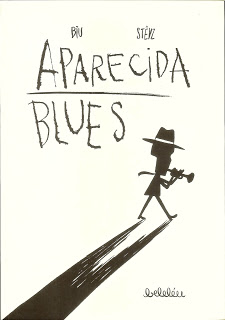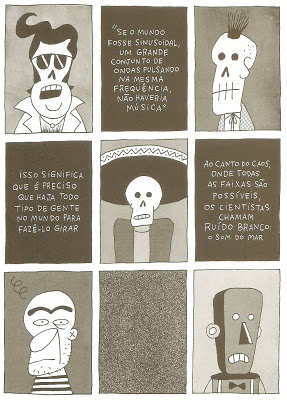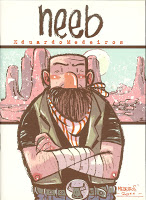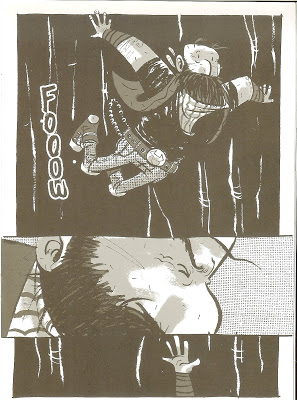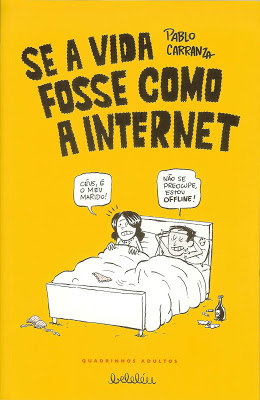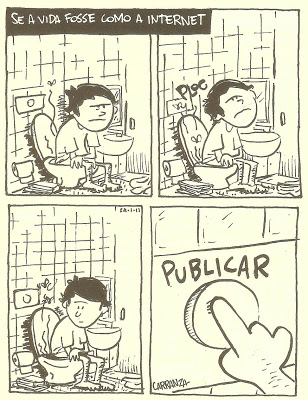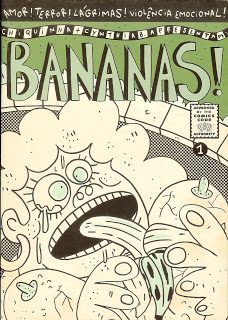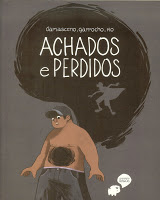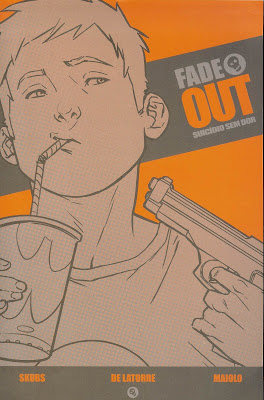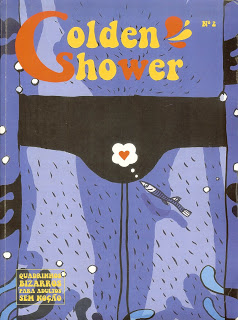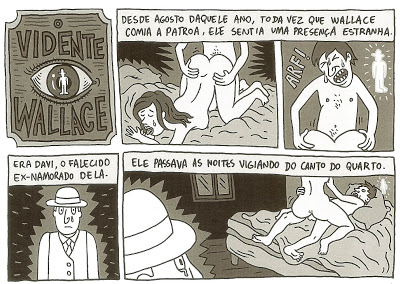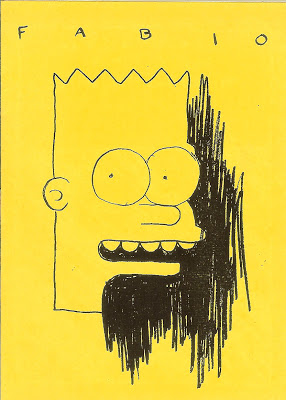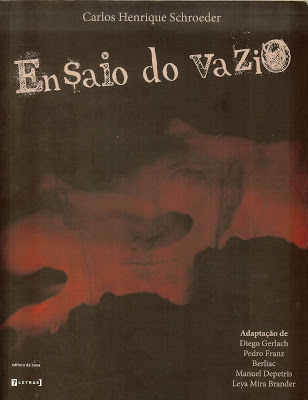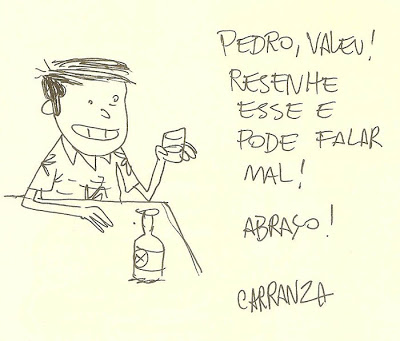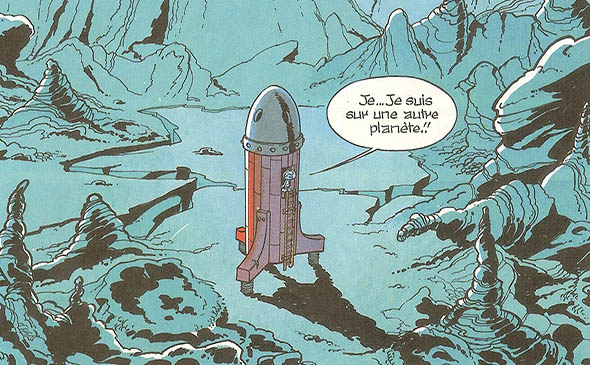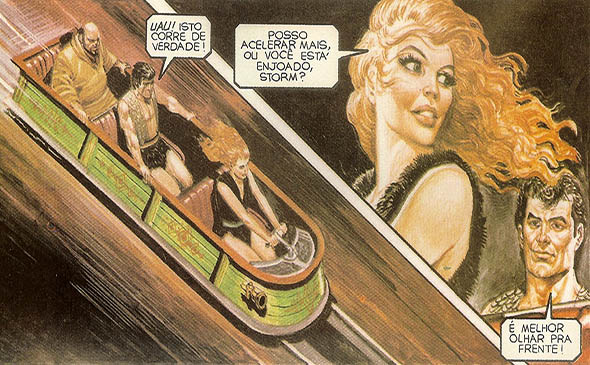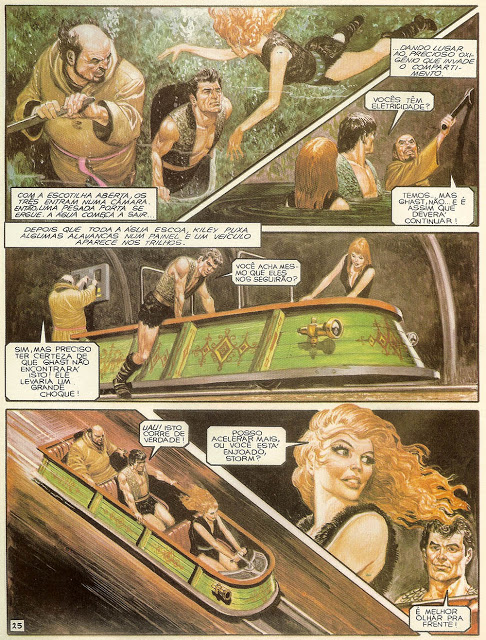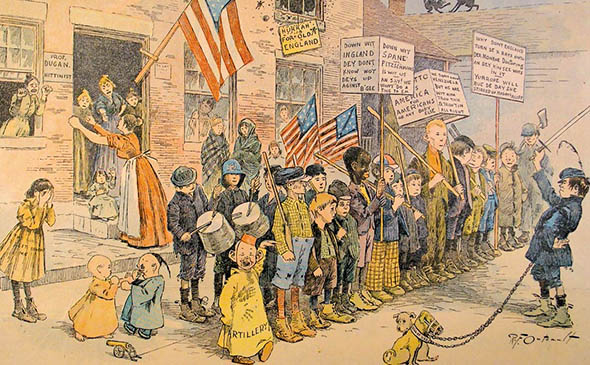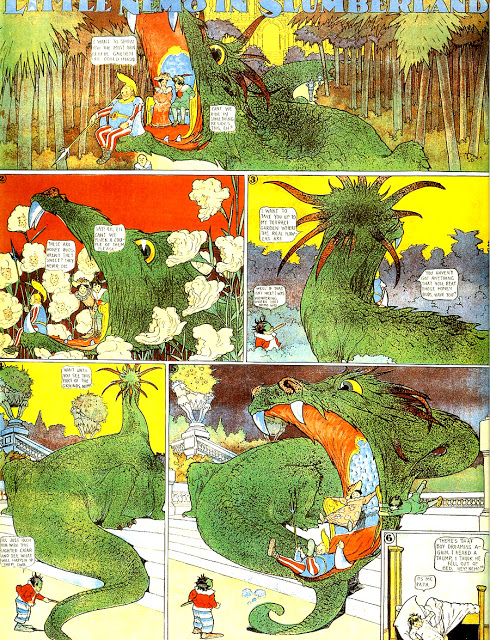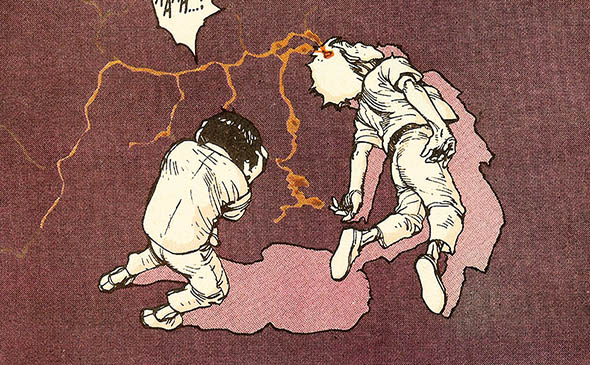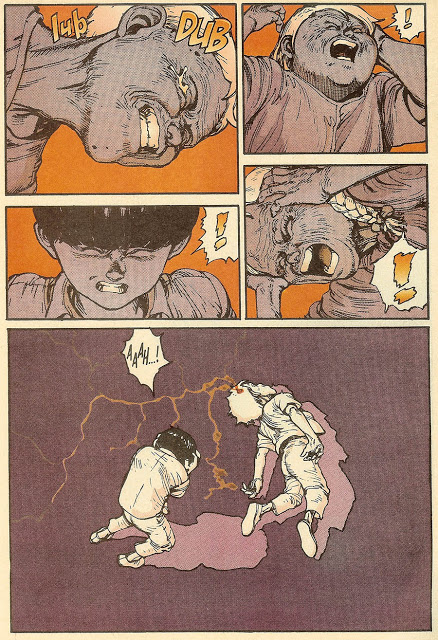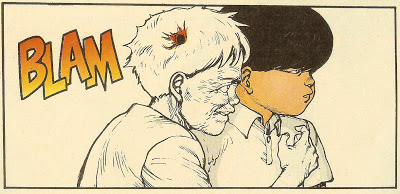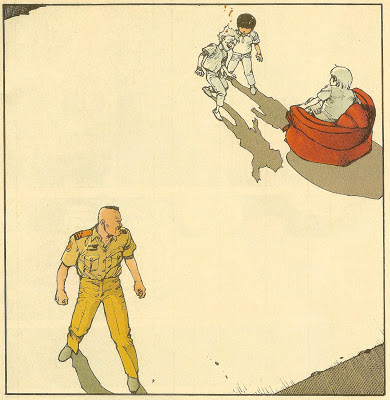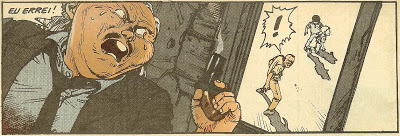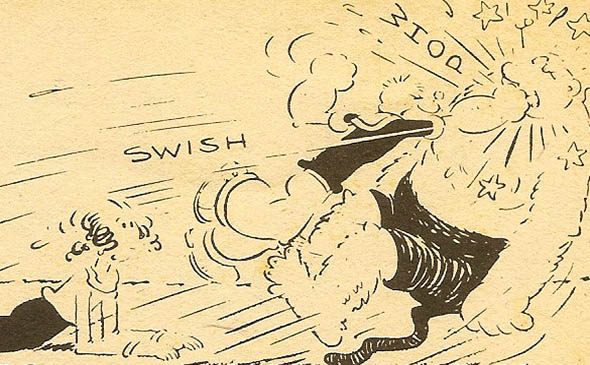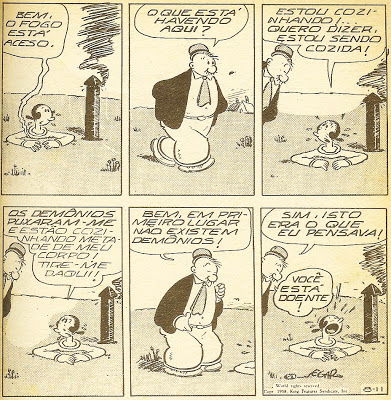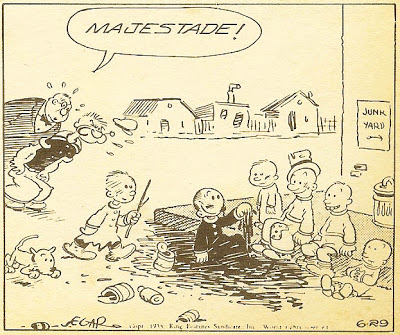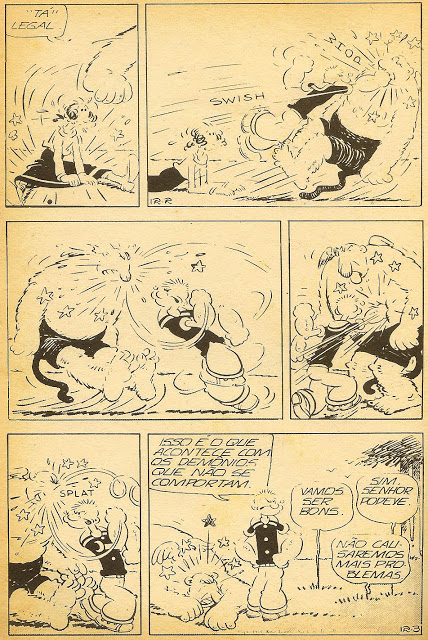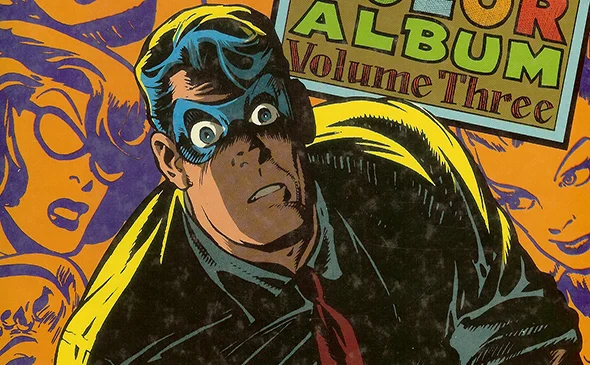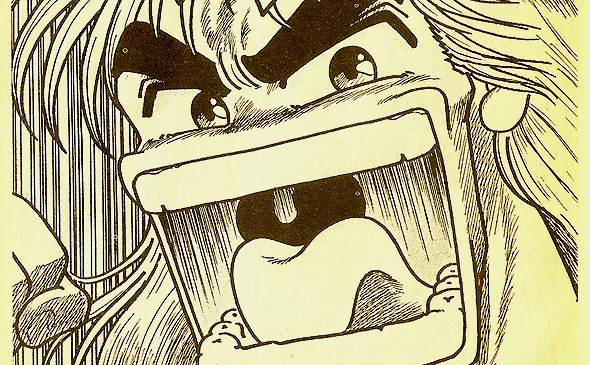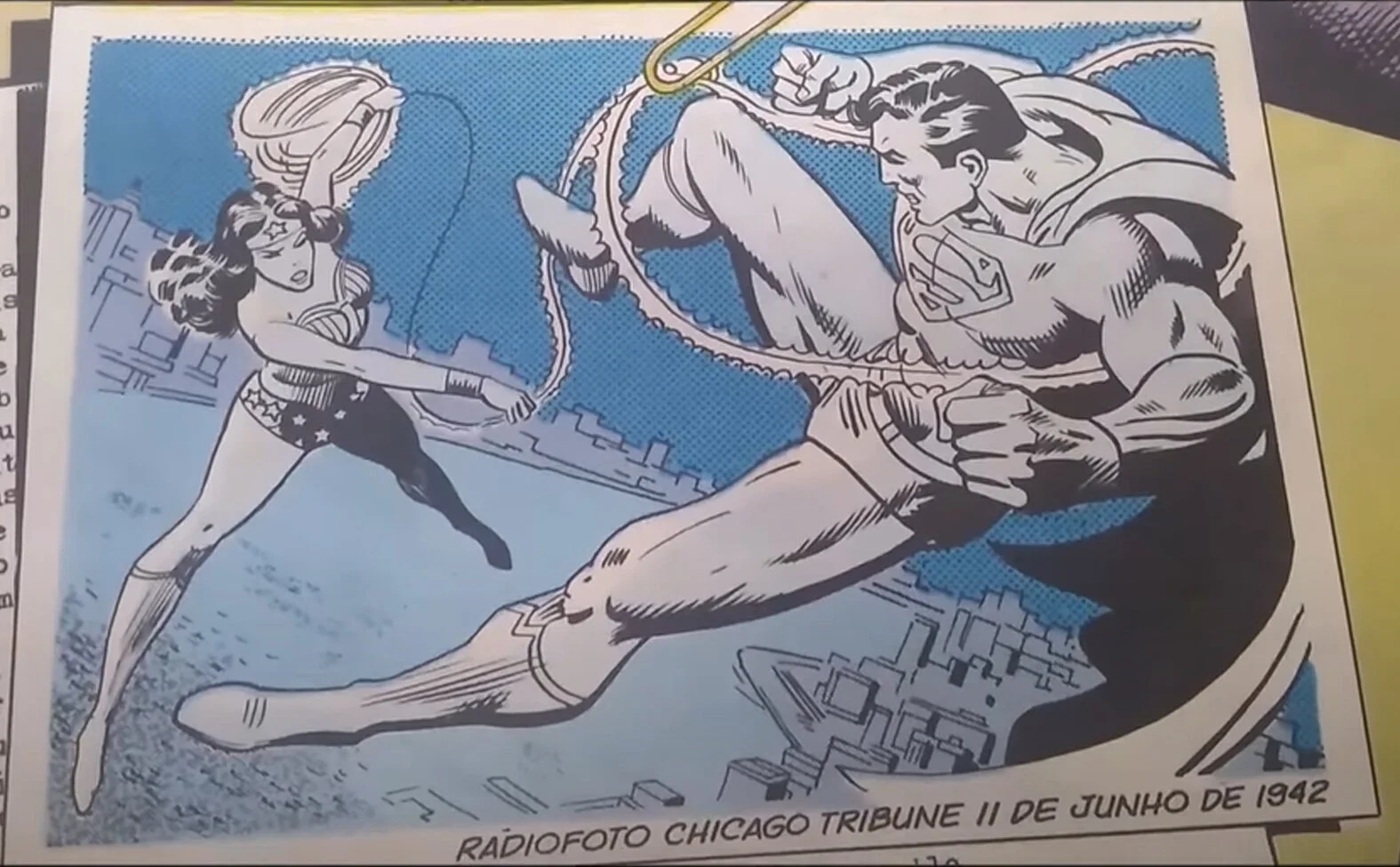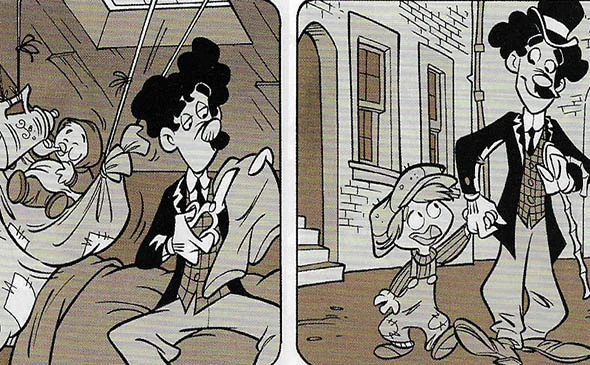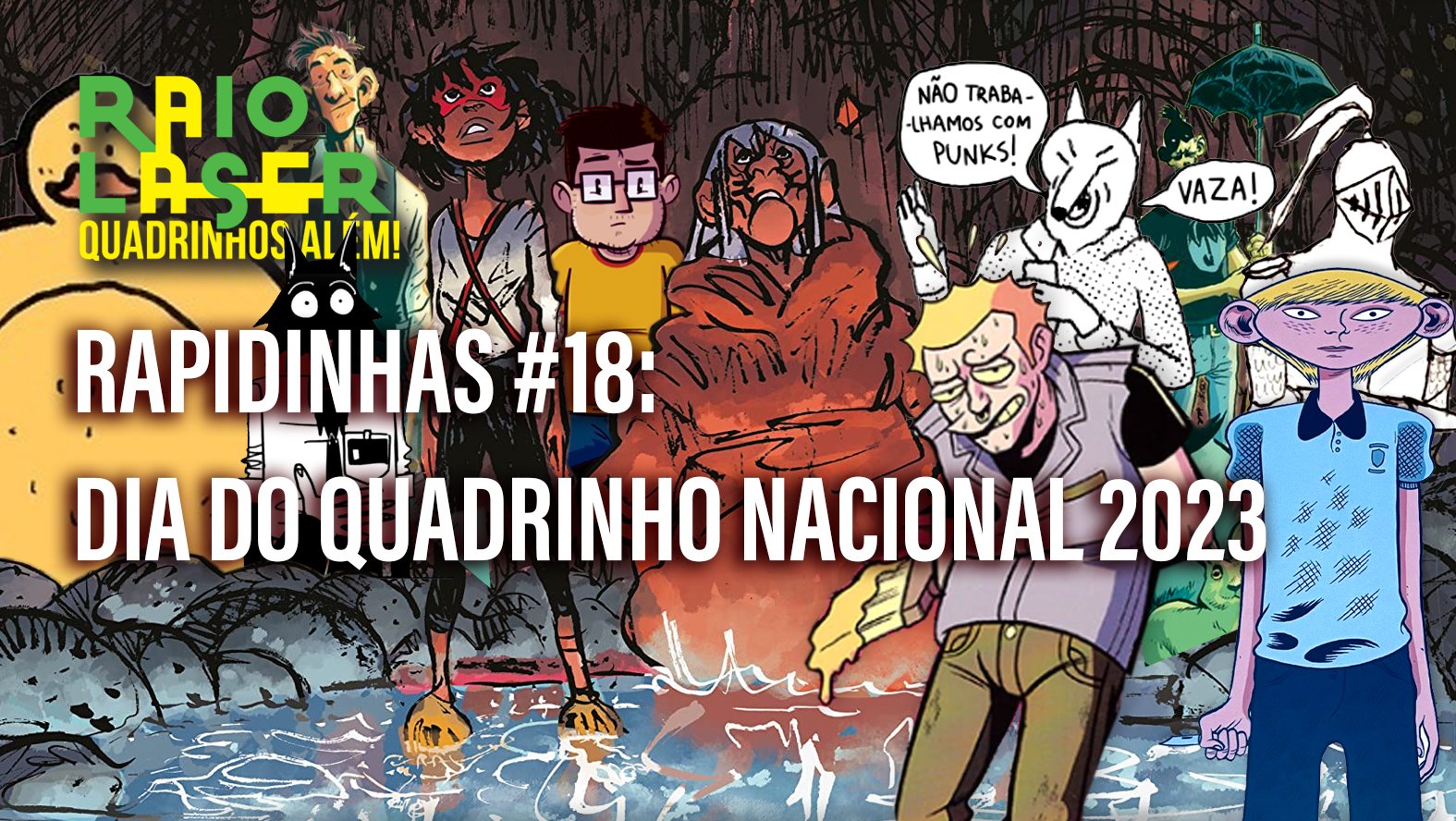por Pedro Brandt
Se tivesse que escolher salvar de um incêndio uma revista
em quadrinhos ou um disco, Evandro Vieira não teria dúvida: “Um quadrinho, é
claro! Música é mais fácil conseguir de novo. Tenho um exemplar de Minha vida, do Robert Crumb, autografada
pelo autor. Sei bem onde está guardado para pegar e fugir com ele!”. Rock e
quadrinhos têm sido o pão com manteiga deste brasiliense desde a infância.
Hoje, aos 42 anos, ele reúne uma considerável coleção de gibis, CDs e artigos
relacionados, como bonecos e estatuetas de músicos, heróis e (principalmente) vilões.
O mais recente item do acervo é de autoria do próprio Evandro e dialoga
diretamente com essas duas paixões. O título já escancara: Rock vs.Comics.
Há 12 anos à frente da banda de hardcore Quebraqueixo,
Evandro já foi vocalista dos grupos Macakongs 2099 e Royal Street Flesh. Alguns
de seus amigos de adolescência se tornariam roqueiros famosos nas bandas
Raimundos e Little Quail, duas das mais populares de Brasília durante os anos
1990. Evandro já colocou a voz em seis CDs e Rock vs.Comics é a quarta publicação com seu nome – ou o pseudônimo Evandro
Esfolando – na capa.
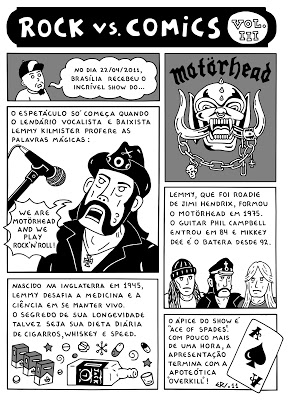
A estreia foi o livro
Esfolando
ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em
Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de
1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos
Grosseria refinada (2008). Uma das
histórias ali presentes,
Trabalho do
Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem
Um assalto de fé (2011).
Quebraqueixo
– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da
banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as
letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas
de Brasília.
Rock vs.Comics
não trata de uma disputa de um contra o outro, pelo contrário. Na publicação,
Evandro apresenta resenhas ilustradas de shows de rock e festivais de história
em quadrinhos dos quais participou entre 2010 e 2012. O estalo para a criação
de Rock vs.Comics, no entanto, surgiu
de um embate. Na noite de 30 de março de 2011, ele teve de escolher entre
assistir a um show do Iron Maiden ou a uma palestra do cartunista argentino
Liniers. Como já tinha visto a Donzela de Ferro ao vivo (na primeira vez que a
banda inglesa passou por Brasília), optou pelos quadrinhos.
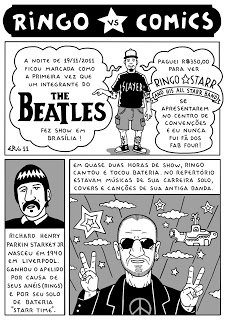
Evandro conta que outra inspiração para
Rock vs. Comics veio da leitura de
O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais
personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e
pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no
Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns
ensaios, até para alimentar o meu blog (
esfolando.wordpress.com),
e vi que a coisa funcionava”.
Ao longo das 34 páginas da revista, o autor apresenta 25
resenhas ilustradas (em preto, branco e cinza) que vão desde shows de alguns de
seus ídolos, como JelloBiafra (ex-vocalista dos DeadKennedys) e a banda
SuicidalTendencies até de artistas que passam longe de seu gosto musical, como
Bob Dylan e Ringo Starr. “Posso nem gostar muito da banda, o importante é ver
um show maneiro”, pondera.
Disney, Mad, Moebius

A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos
começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.
Posteriormente, a satírica revista
Mad
exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para
o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho
trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos
europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.
Autodidata, Evandro tem um desenho simples e minimalista
(não confundir com tosco e sem estilo) e suas histórias são rápidas e direto ao
ponto como uma música de hardcore. “Tento caracterizar os personagens com o
mínimo de traços possíveis”, comenta. Até por isso, os detalhes fazem toda a
diferença em suas resenhas ilustradas. “Eu sempre me desenho usando camiseta de
alguma banda. A escolha da banda, geralmente, tem alguma coisa a ver com a
história”. Cada resenha tem uma diagramação diferente e é possível perceber com
o passar das páginas uma busca pela experimentação de novos formatos de contar
uma história – prática que Evandro pretende expandir na próxima temporada de Rock vs. Comics. “Como no Brasil ninguém
nunca fez um quadrinho com essa proposta, eu quero sentir a resposta do público
– posso ser considerado um idiota ou um pioneiro. Mas fazer esses quadrinhos é
uma paixão e, independente de qualquer coisa, pretendo continuar produzindo,
nem que seja só para colocar no meu blog”, sentencia.
Publicado com o auxílio do FAC (Fundo de Apoio à
Cultura), Rock vs. Comics será
lançado no Domingo, 24/03, no Espaço Laje (708 Sul Bloco A, casa 47 - Brasília). A entrada é gratuita e a revista estará
à venda no local por R$ 15.
Cinco quadrinhos com rock:
Lôcas – Maggie, a
mecânica, de Jaime Hernandez
Derrotista,
de Joe Sacco
Red Rocket 7, de Mike Allred
Top 5 Evandro Esfolando:
Rock: DeadKennedys, Raimundos, Ramones, Ratos de Porão e SuicidalTendencies.
Comics:
Alan Moore, Angeli, Robert Crumb, Moebius e Liniers.
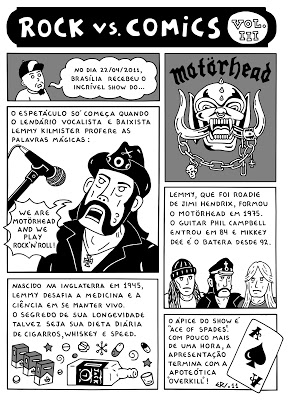 A estreia foi o livro Esfolando
ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em
Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de
1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos Grosseria refinada (2008). Uma das
histórias ali presentes, Trabalho do
Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem Um assalto de fé (2011). Quebraqueixo
– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da
banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as
letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas
de Brasília.
A estreia foi o livro Esfolando
ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em
Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de
1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos Grosseria refinada (2008). Uma das
histórias ali presentes, Trabalho do
Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem Um assalto de fé (2011). Quebraqueixo
– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da
banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as
letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas
de Brasília.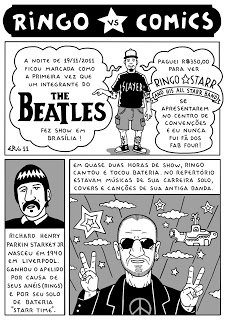 Evandro conta que outra inspiração para Rock vs. Comics veio da leitura de O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais
personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e
pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns
ensaios, até para alimentar o meu blog (esfolando.wordpress.com),
e vi que a coisa funcionava”.
Evandro conta que outra inspiração para Rock vs. Comics veio da leitura de O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais
personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e
pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns
ensaios, até para alimentar o meu blog (esfolando.wordpress.com),
e vi que a coisa funcionava”. A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos
começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.
Posteriormente, a satírica revista Mad
exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para
o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho
trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos
europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.
A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos
começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.
Posteriormente, a satírica revista Mad
exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para
o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho
trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos
europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.