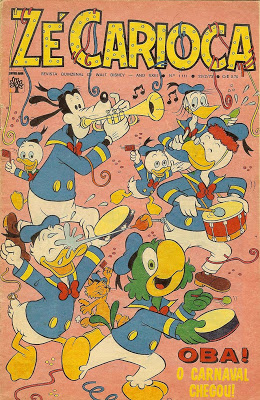Lixo extraordinário: sobre as HQs de Zé Carioca
/por Ciro I. Marcondes
 No ano passado, numa
frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –
edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da
Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,
ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas
(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas
isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).
Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de
lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade
interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse.
No ano passado, numa
frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –
edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da
Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,
ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas
(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas
isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).
Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de
lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade
interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse.
Sempre fui leitor
Disney (é verdade que é difícil indicar algum tipo de HQ que eu não leia) desde
a infância, e, por mais que estivesse distante desse universo há alguns bons
anos (ou décadas), sentia falta dessa parcela tão importante da cultura de HQs
aqui no blog. Disney acabou sendo bastante defenestrado por suas associações
com o macartismo, além da presença daquele livro eficiente, mas academicamente chucro e
datado (“Para ler o Pato Donald”), que cuidou de limar lentamente outros tipos
de leitura inteligente de seus quadrinhos. Minha lembrança dos quadrinhos
Disney sempre foi de narrativas versáteis, atuais, cheias de ricos universos de
personagens, com arquétipos fortes (carregando, lá, seus preconceitos, mas,
felizmente, naquela época ninguém se importava), variabilidade temática,
instigações cientificas, sociológicas, uma fartura de benesses.
Minha pequena “pilha de
lixo” vai do número 1031 até o número 1445, lembrando que, em primeiro lugar, esta série começa no número 449 (primeira estranheza) e que, em segundo, ela consta
apenas de números ímpares, já que os números pares eram dedicados ao Pato
Donald na Abril dos anos 60-70 (estranheza editorial número 2). É claro que,
como estamos falando de Zé Carioca, estamos falando de um tipo especial de cultura Disney, ou seja, uma
desenvolvida no Brasil e para o Brasil, e vou privilegiar aqui a
análise deste aspecto das histórias. A imensa maioria delas é já da fase de
editoração 100% nacional, provavelmente desenhadas pelo lendário Renato Canini,
responsável pelo abrasileiramento absoluto do Zé nos anos 70, mas não há
créditos.
As histórias do Zé
nesta época são intensamente vivazes, muito coloridas, com familiar cenário
brasileiro, e geralmente lidando com problemas mais afeitos ao leitor
brasileiro: um tipo especial de assaltos e violência, por exemplo, ou a cultura
do samba e outros tipos de cultura de matriz negra, geralmente excluídas do
compêndio cultural da Disney, ou um certo temperamento mais despojado, elétrico
e malandro de todos os personagens, contaminados por um senso de ética carioca
que, sejamos francos, ainda faz bastante sentido. Portanto, selecionei quatro
histórias que funcionam como um anedotário daquilo que encontrei em Zé Carioca
ao chafurdar neste “lixo extraordinário”.
1: A cultura do western
e a cultura da violência
 Em “O mais procurado da
cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,
de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico
desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema
mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de
personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro
anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos
identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo
do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e
guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,
entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o
quente!”
Em “O mais procurado da
cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,
de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico
desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema
mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de
personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro
anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos
identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo
do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e
guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,
entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o
quente!”
Esta pequena história,
cuja moral se centrará num engano (Zé será confundido com um bandido e verá que
vida “cheia de perigos” do faroeste não é tão legal quando vivenciada no “mundo
real”), me faz pensar em dois aspectos dignos de nota: em primeiro lugar, a solidez
da cultura do western no Brasil já
nos anos 70, quando o gênero, em sua matriz americana, resfolegava. Filmes
extremamente críticos à cultura do faroeste, como Os profissionais (66), Meu
ódio será sua herança (69) e Pequeno
grande homem (70), já delineavam o declínio do gênero, que nas décadas
seguintes apenas perderia cada vez mais sua espantosa popularidade adquirida
nos anos 30, 40 e 50.
Como o entusiasmo do Zé com o filme de “Texas Bill”
parece fresco como o de um menino vendo hoje “Os vingadores”, isso é amostra o
suficiente da perenidade da cultura dos westerns no Brasil, com vários cinemas
especializados, durante os anos 70, além da popularidade dos chamados “Western
Spaghetti” (feitos por italianos), que vão se disseminar a partir especialmente
desta década. O nome do filme de “Texas Bill”, “O Cruzeiro furado”, de fato
parece parodiar os títulos dos filmes de Sérgio Leone. A história, simpática,
ainda flerta com o gangsterismo e o noir, fazendo singela homenagem ao cinema,
alinhavando a relação que o cinema de violência no Brasil tem com estas
culturas estrangeiras. Se alguém se lembrou, na outra ponta da corda, um filme
como Cidade de Deus, eu não acho que
seja por acaso.
2: O Rio continua lindo
 Em “Um guia em apuros”
(Zé Carioca Nº 1207), o quadro
panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um
modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.
No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!
Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos
concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,
desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais
que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”
Em “Um guia em apuros”
(Zé Carioca Nº 1207), o quadro
panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um
modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.
No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!
Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos
concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,
desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais
que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”
Tentando trabalhar (mas
não conseguindo – como é a tônica da maioria das histórias do Zé Carioca)
honestamente, Zé, aturdido com os baixos preços dos concorrentes (uns gatunos
malhados), resolve implementar todo tipo de reforma no negócio para conseguir
tirar um trocado: muda o stand de localidade (juntamente com seu amigo urubu,
Nestor), abaixa os preços, mas nada muda. Resolvendo então pagar para ver qual
o segredo dos gatos, eles descobrem que os concorrentes executavam um crime
consideravelmente hediondo: levavam os turistas para cima de um morro e os
assaltavam. Me pergunto se colocavam eles dentro de pneus enfileirados e
tacavam fogo também, para depois jogar as carcaças na floresta da Tijuca.
 |
| Dadinho é o caralho! |
Esta história me trouxe
à tona dois imaginários sobre o Rio: primeiro, o turismo, que agora bomba tanto
com as Olimpíadas, sempre primitivo, batendo na mesma tecla tropical, mostrando
que, num estereótipo grosseiro em um gibi para as massas, ou numa campanha governamental “séria”, o Rio de Janeiro continua sob o signo de umas duas ou
três características supostamente imutáveis. Em segundo lugar, o aparecimento,
bastante agressivo, de uma terceira característica implicada no mundo caótico
dos cariocas: a violência associada a uma inteligência intrusa e perversa, ou a
selvageria do gangsterismo à brasileira. De alguma forma enraizado num paradoxo
de eterno paraíso perdido, o Rio só tem salvação mesmo, nas páginas do gibi, na
figura do malandro romântico que é Zé Carioca, trazendo sempre algo de “bom
selvagem”, procurando sempre mostrar ao leitor cínico que naquele algures
caótico que se valoriza o descaso e a trapaça, convive também a cultura do
“viva e deixe viver” tropical, deitada na rede, jogando futebol.
 |
| Malandraij |
3: Tô me guardando pra
quando...
 A edição número 1.111
de Zé Carioca, datada (precisamente)
de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre
fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma
batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume
(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um
paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de
brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o
deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé
Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a
primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma
puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto
lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:
faltam 3 dias para o carnaval”.
A edição número 1.111
de Zé Carioca, datada (precisamente)
de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre
fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma
batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume
(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um
paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de
brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o
deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé
Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a
primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma
puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto
lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:
faltam 3 dias para o carnaval”.
Zé Paulista, pontual e
ansioso, pergunta-se onde estará Zé Carioca, que prometera buscá-lo na
rodoviária. Ao mesmo tempo, num suspeito estereótipo de erudição paulista,
pergunta-se como comprará ingressos para o Teatro Municipal. A verdade é que Zé
Carioca estava na praia e vai buscar o primo apressado e “culto” com duas horas
de atraso. O grande charme desta história é exatamente a caricatura um tanto
ridícula, mas ao mesmo tempo insistentemente pregnante, que se pode observar da
cultura de São Paulo a partir do primo de Zé. Este enfoque na dedicação, mas ao
mesmo tempo na ingenuidade, acabam por definir o destino do personagem na
história. Se o trabalho sem malandragem (exatamente o oposto do Zé Carioca)
aparece como fator definidor do paulista na história, é justamente o apego
ingênuo ao trabalho que o transforma no melhor tocador de tamborim de Vila
Xurupita. Como bom paulista obcecado e dedicado, ele recebe a missão de tocar o
instrumento, no bloco de rua da moçada, das mãos do próprio Zé. Levando a
experiência como uma missão de vida ou morte e treinando dia e noite, ele acaba
surpreendendo os jurados e vencendo o carnaval de Vila Xurupita. Diante deste
panorama paradoxal, qual é exatamente, portanto, a visão construída sobre os
paulistas nesta história? A do “mané” que não sabe tocar e perde o tempo
treinando pateticamente, ou a do bastião da força de trabalho, eficiente até
mesmo na cultura alheia? Esta singela historinha tem o poder de invocar as duas
perspectivas.
 |
| Locomotiva do Brazeel |
4: Brasil grande
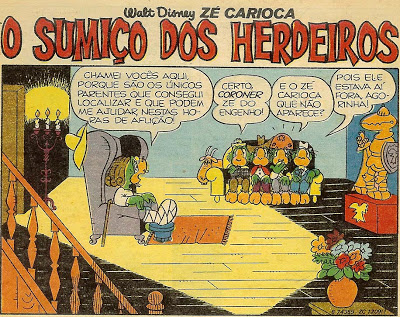 Por fim, uma das
histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé
Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.
Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável
por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia
os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a
presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona
central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa
com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São
eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um
representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem
marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma
figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,
e cabe aos herdeiros resolver esse problema.
Por fim, uma das
histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé
Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.
Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável
por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia
os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a
presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona
central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa
com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São
eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um
representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem
marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma
figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,
e cabe aos herdeiros resolver esse problema.
Esta história vale-se
de um sincretismo bastante bizarro, que associa o coronelismo arcaico
brasileiro a uma certa aristocracia europeia, fazendo a casa do coronel parecer
um castelo, e fazendo seus herdeiros parecerem, de algum jeito estranho,
vassalos de uma casta nobre e digna. A história, portanto, desenvolve-se em
exótica mistura do clima de uma fazenda no interior do Brasil, com direito a
sotaque característico e comidas típicas, com romance de fantasmas europeu à Horace Walpole. No final das contas, Zé Carioca, que não participara da reunião
por esperteza, salva a família do golpe planejado pelos primos tortos que não
estavam sendo contemplados pela herança do coronel.
Este coronel, que usa
chapéu, bengala, monóculo e bigodinho, propõe-se na história a ser um signo
exótico, de um antigo conformismo paternalista com culturas brasileiras
arcaicas, ainda num manso traquejo de favores entre uma cultura herdeira do
escravismo (ou de um militarismo torpe e corrupto) e uma certa dignidade
empostada perdida na contemporaneidade. Que as regiões mais famosas do Brasil
estejam presentes para abaixarem a cabeça diante de tal autoridade não
surpreende e, mesmo sendo tiro pela culatra, a história do Zé Carioca acaba
desvelando um sentido meio macabro da própria subserviência brasileira. Uma história
de terror e fantasmas, sem dúvida.