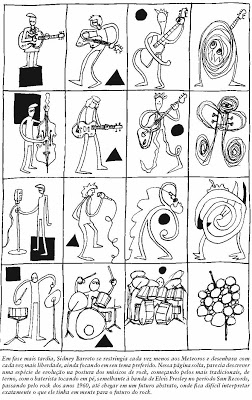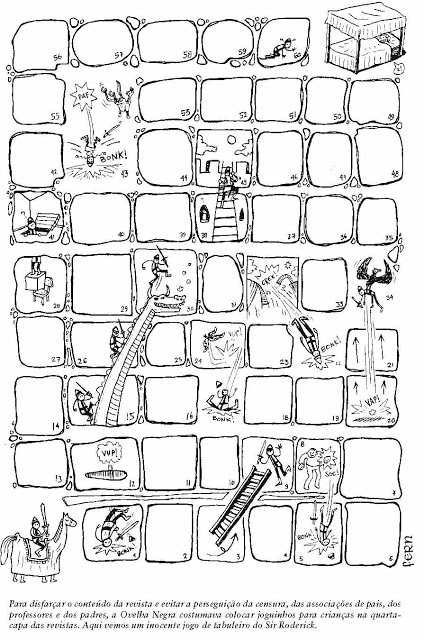HQ em um quadro: a lendária seca de 69, por Gilbert Shelton
/A força-contra que esses hippies depositaram diante de ter que se juntar ao status quo foi tanta que estas decisões têm de ser tomadas no meio da mais absoluta desolação pós-apocalíptica, quando tudo que tinha para se fazer em termos de sexo, drogas e rock and roll estava esgotado, e todas as bebidas acabadas, e todo o sonho contracultural turbinado pelo consumo de drogas morto graças à eficiência da polícia, que aparece no fundo do quadro, com suspeição repressiva. Shelton sugere que, finda a distribuição de drogas e morto o sonho, o apocalipse vem na forma do entregar-se, do render-se ao proselitismo capitalista, última das últimas opções.
Ao mesmo tempo, sugere que uma vida chapada é melhor que uma vida enquadrada e que, enquanto esse povo tiver maconha, ele não se preocupará em estudar economia ou se juntar à Juventude Cristã Pela América, e que, de alguma forma, isso é algo bom. Isso me lembrou aquela música (incrível) do Alice in Chains, Junkhead, em que o falecido (por overdose) Layne Staley canta, de maneira bem mais barra-pesada, um hino exaltando as vantagens de se ser um junkie num mundo em que nada faz sentido: You can't understand a user's mind / But try with your books and degrees / If you let yourself go and opened your mind / I'll bet you'd be doing like me.
Os exageros de Shelton podem até parecer sombrios, irresponsáveis ou descabidos para uma grande quantidade de leitores menos "experienced", mas vamos admitir, sem reservas ou pudores, que o homem tem um senso de humor escarninho e verdadeiramente provocativo, além de um grande par de bolas dentro da cueca. (CIM)